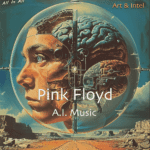A Oruã sempre foi uma banda difícil de encaixar em rótulos. Nascida na Baixada Fluminense, em torno do músico e produtor Lê Almeida, ela surgiu como um desdobramento natural da cena independente carioca e do selo Transfusão Noise Records — um núcleo de experimentação onde guitarras sujas, gravações caseiras e improvisos se tornaram quase uma filosofia de vida. Agora, com “Slacker”, o grupo parece ter dado um passo que combina maturidade e ousadia: levar esse som cheio de ruído e alma brasileira para um estúdio em Seattle.
Gravado nos Estados Unidos, o novo disco tem produção assinada junto a Jim Roth, ex-guitarrista do Built to Spill, com quem a banda já vinha trocando ideias há alguns anos. Essa parceria faz todo sentido: a Oruã participou da gravação e mixagem do álbum mais recente do Built to Spill, e acabou criando uma ponte natural com a cena indie americana. A escolha de Seattle — berço do grunge, mas também lar de uma tradição experimental e psicodélica — deu ao som da banda um ar mais aberto, com mais espaço para os instrumentos respirarem, sem que a sujeira característica fosse varrida pelo polimento do estúdio.
Em “Slacker”, a Oruã amplia o território que já vinha explorando em discos anteriores. As guitarras continuam dissonantes e cheias de camadas, as batidas seguem hipnóticas, e há um jogo constante entre o transe do krautrock, o balanço do afrobeat e uma psicodelia que flerta com o lo-fi. O disco parece feito para ser sentido tanto com o corpo quanto com a cabeça. É rock, mas é também uma música de repetição, que gira e se transforma aos poucos, com letras que falam de fé, cansaço, deslocamento e esperança.

A faixa de abertura, “Deus-Dará”, é um ótimo cartão de visitas: mistura groove e introspecção num mesmo fluxo. Em seguida, o álbum se expande em direções inesperadas — “México Suite” e “Cachoeira” mergulham num psicodelismo mais quente, enquanto “Casual”, composta durante uma turnê, traduz o tédio e o humor agridoce da estrada. Já “Soft” e “Banguela” encerram o disco num tom mais contemplativo, quase etéreo, deixando o ouvinte num estado entre o sonho e o despertar.
O som da Oruã nunca foi fácil, e “Slacker” não tenta mudar isso. É um álbum que exige entrega. As faixas se estendem, às vezes parecem flutuar no mesmo acorde, e é justamente nessa repetição que o disco encontra seu charme. As texturas de guitarra e as percussões criam um ambiente que mistura o calor do Rio com o clima nublado de Seattle — uma fusão improvável, mas que soa natural nas mãos da banda.
O ouvinte que chega sem pressa descobre um trabalho cheio de pequenos detalhes: backing vocals sutis, sintetizadores discretos, vozes que surgem e somem como ecos. Há uma sensação de continuidade, de algo feito em comunhão, e essa energia se transmite até nas faixas mais introspectivas.
Curiosamente, o nome da banda vem de uma confusão sonora: Lê Almeida teria ouvido uma palavra dita por Lee Ranaldo, do Sonic Youth, e achado que soava como “Oruã”. Anos depois, o grupo acabou confundido com o trapper Oruam — episódio que se tornou uma piada recorrente entre os fãs. Nada disso parece incomodar a banda, que sempre preferiu seguir o próprio caminho, longe de qualquer tentativa de enquadramento.
“Slacker” marca a consolidação da Oruã como um dos grupos mais interessantes do rock brasileiro atual. O disco é o retrato de uma banda que não tem medo de se misturar, de sair da zona de conforto e de expandir sua linguagem sem perder o sotaque. É música feita com o mesmo espírito das ruas onde nasceu — improvisada, viva, imperfeita —, mas agora com o horizonte ampliado.
Ouvir “Slacker” é entrar num transe onde o barulho e o silêncio coexistem, onde o Brasil encontra Seattle, e onde o som é, acima de tudo, uma forma de resistência e de liberdade.